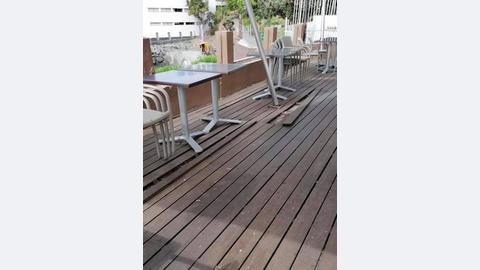Festas como esta
Ao contrário do que por aí se alvoraçou, o Governo não podia em consciência impedir o festival, e pela mesma razão que não pode embargar o Pontal ou o Chão da Lagoa – porque deve, em democracia, aos comícios da oposição um qualificado respeito
Os dias do vírus caracterizam-se por uma certa reabilitação da hipocrisia. Já percebemos: há um descaso entre o que se pode, e o que se deve fazer. Pior, há também um desencontro entre o que não se pode, e o que não se deve fazer. Um indivíduo dá por si numa absurda condição. Pode respeitar a lei, e ainda assim atiçar um surto de fazer inveja a Gomorra. E pode, mesmo com a saúde de um touro, acabar multado ou algemado num carro-patrulha.
Estes paradoxos obrigam a preparativos. De modo que cada português ensaiou para a Covid uma moral externa, para consumo público, e uma moral interna, para prática privada. A ambas recorre furiosamente, como a um par de remos, para que a nau da sua sanidade não afunde no pântano da incongruência.
Assim procedendo, o cidadão defende-se. Pode insurgir-se contra as festas dos jovens, que indevidamente apelida de ilegais, enquanto se barrica alcoolizado na casa de quinze compadres. Pode aplaudir o confisco, pela polícia marítima, de bolas de praia, enquanto se bamboleia como uma stripper no guarda-sol do bar. Pode louvar a falta de público no futebol, sabendo que lá estaria à primeira jornada. Pode berrar no restaurante, cuspindo nos convivas, para se opor a romarias, concertos e desportos colectivos, enquanto se incha do vinho que o supermercado o impediria de comprar. Pode julgar a abertura das escolas uma irresponsabilidade, mas censurar com violência as restrições à sua ocupadíssima pastelaria. Pode, enfim, servir-se de uma ética à la carte, regalando-se na vingança discreta e possível contra o diabólico cardápio de regras e ordens que lhe impingiram.
Com o Avante, foi um pouco assim. Na moral pública, criticou-se o risco sanitário, a disparidade de critérios com eventos semelhantes. Na moral privada, a malta estava entendida: era para estragar a festa aos comunas. Só não se sabia por onde – se o registo era cancelar tudo, incluindo o Avante, por causa do Covid; ou se era permitir tudo, incluindo o Avante, apesar do Covid.
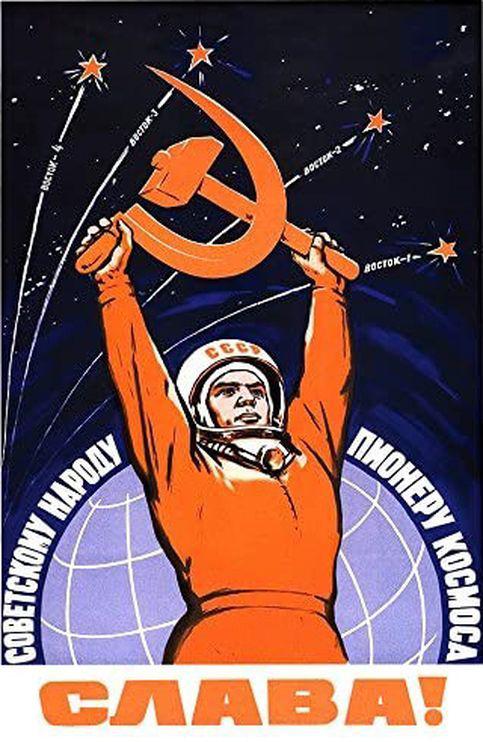
A história teve episódios deprimentes, como a instrumentalização da DGS, e a aparente moscambilha para aprovação do Orçamento de Estado. O próprio Avante é deprimente, dando palco às FARC e perdão ao Hamas, brindando a regimes na melhor das hipóteses extorsivos e, na pior, sanguinários, tudo num mal-disfarçado festival de Verão que, a coberto do regime fiscal dos partidos políticos, opera em concorrência desleal com os demais.
Sucede que é possível abominar estas peripécias, e abominar o comunismo, e ainda assim concordar com este Avante.
Ao contrário do que por aí se alvoraçou, o Governo não podia em consciência impedir o festival, e pela mesma razão que não pode embargar o Pontal ou o Chão da Lagoa – porque deve, em democracia, aos comícios da oposição um qualificado respeito. Um respeito devido, também, às reuniões políticas em sentido mais lato, como as manifestações (?) contra o racismo, que também passaram. De resto, os festivais de Verão mais conhecidos, de resto, não se organizaram porque os seus promotores, confrontados com a bem realista hipótese de dever fortunas a artistas e produção, foram ao Governo pedir cobertura para um adiamento. Mas não eram proibidos, como o Avante não foi, nem podia ser.
O Avante foi então a face visível de um paradoxo. O PCP, que levantou reservas ao Estado de emergência, que fez a sua festa contra ventos e marés, que segura um Secretário-Geral integrado num grupo de risco, foi o partido que mais cedo percebeu e alertou para os efeitos económicos e sociais das quarentenas e confinamentos.
Não vamos ao engano. O PCP não mudou. Como antes da revolução, o seu contributo para liberdade não é sincero, mas acidental, e esta conduta esconde um esforço de branquear um vírus que – no fim de contas – também é chinês. Não se opõe ao vírus por princípio, mas por inveja, e de bom grado imporia uma ortodoxia concorrente e igualmente desastrosa. O encanto, a existir, não parte de uma adesão a este programa, mas de uma admiração estética pela tradição romântica da oposição e da resistência.
Sucede que essa admiração tem o seu lugar. Apesar do fanatismo, e também por causa dele, o PCP compreende as implicações de colocar a saúde acima de todas as coisas, incluindo a acção política, que – pasme-se – implica contacto e proximidade, sobretudo com os despojos suburbanos e industriais do vírus, que não penetram a película pequeno-burguesa das notícias e das redes sociais, mas são dele os principais prejudicados. Ao avançar contra uma hegemonia mediática, ao recusar a docilidade e a timidez, ao valorizar o encontro responsável com o povo, o PCP revelou coragem. E coragem, lamento, é precisa, e tem faltado aos partidos e instituições a quem compete vigiar o mando em nosso nome. Até porque Portugal começa, pouco a pouco, a tornar-se numa auto-invenção.
Felizmente, a festa foi-se, e com ela o folclore e o drama. Além do simbolismo, porém, é imperativo que ela deixe uma pergunta, e talvez uma provocação: se, daqui a uma por duas semanas, não vier do Seixal, ou do geriátrico eleitorado comunista, um surto ou um aumento de casos, que nos dirá esse dado da forma como nos governamos, e reciprocamente criticamos? Que nos dirá da lei, da ordem, da moral, e da reabilitada hipocrisia com que tanto nos indignamos? Nada?